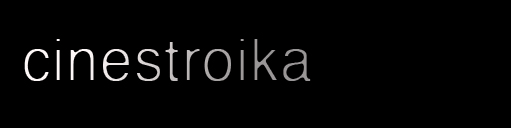O primeiro plano de Doze Homens e Uma Sentença é a forte imagem de um gigantesco Tribunal de Justiça. Em seguida a câmera nos leva para dentro desse espaço e acompanhamos diversas pessoas que o estão frequentando. Vemos a tensão em um homem que sai de dentro de uma sala enxugando seu suor; uma família feliz, que supostamente comemora a vitória em uma audiência. Uma absolvição talvez. Até que entramos na sala onde o Juiz pede para que para que os jurados se reúnam e definam o veredicto, por unanimidade, do caso de um jovem que matou o pai.
Depois dessa curta, porem precisa sequência de abertura, os 12 jurados dirigem-se para uma sala onde são literalmente trancados por um guarda e começam a fazer a votação para decidir o destino do jovem acusado. É nesse limitado espaço cênico onde todo o enredo do filme se desenvolve e é quando um dos doze jurados contradiz o que pareceria ser unânime, dando seu voto para “não culpado”.

Não estamos tratando de um simples filme descartável (é comum dizer isso quando falamos do cinema estadunidense). É nítido que Sidney Lumet, mesmo tendo sua formação através do teatro e da televisão, consegue enxergar o que difere na linguagem entre essas mídias. O cinema por se tratar da sétima arte e ter a fama de absorver as outras artes para sua linguagem precisou ser explorado e que se encontrasse a sua autonomia. É nessa autonomia que o cinema encontrou a sua encenação.
Sim, o teatro também é uma linguagem que necessita da encenação para sua realização, mas a partir do momento em que a câmera está presente, é como um dever do diretor ter a consciência de que ela faz parte dessa encenação. Parece óbvio apontar a presença da câmera como fator que difere as linguagens, mas é essa consciência que diferem os diretores de cinema, não em uma questão qualitativa, mas sob a ótica da exploração da linguagem em questão.

É nesse aspecto que a câmera narra visualmente, não trazendo elementos palpáveis e verdades absolutas, mas uma narrativa mais abstrata, que permite a nós espectadores explorarmos o que talvez fosse a proposta moral do filme (a câmera como um décimo terceiro jurado? o diretor que também julga aquele valor ético do homem que dispara os preconceitos?) É essa a possibilidade infinita do cinema que muitas vezes diz muito sem dizer nada.
A partir do momento que possuo todos esses recortes através do olhar dessa câmera e que esse olhar se desloca dentro do pequeno espaço cênico onde todos estão trancafiados, jamais se poderia afirmar que Doze Homens e Uma Sentença é um filme teatral, mesmo que a tentação seja grande. Dizer que um filme é teatral, além da forte carga pejorativa agregada, seria afirmar que essa câmera não possuiria nenhuma “habilidade” dentro do espaço cênico e que nós espectadores seriamos posicionados a todo o momento na mesma posição que uma plateia de teatro. O que acontece dentro da pequena sala dos jurados é totalmente o contrário. É o cinema em seu estado puro e absoluto.